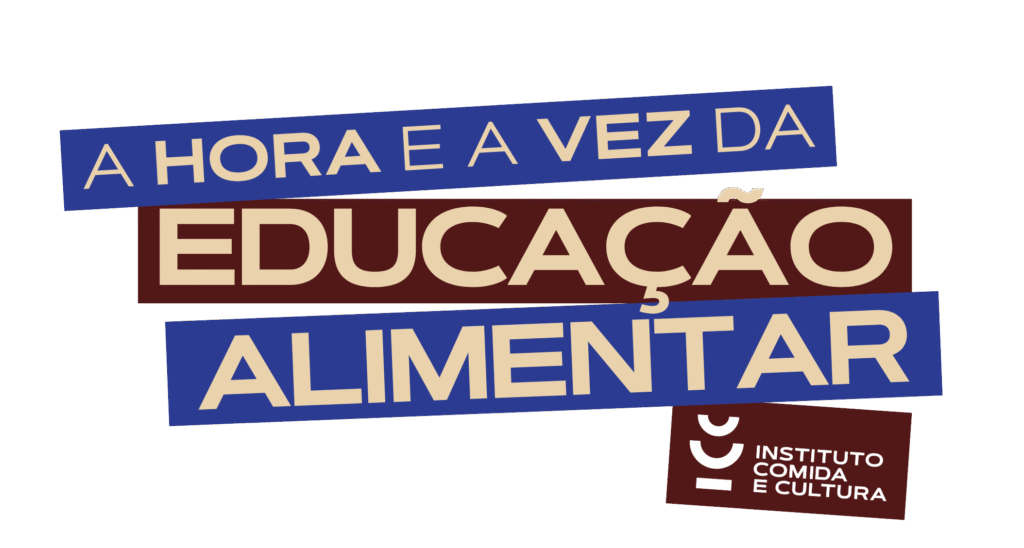ICC apresenta o projeto Cozinhas & Infâncias no Congresso Internacional de Nutrição em Paris
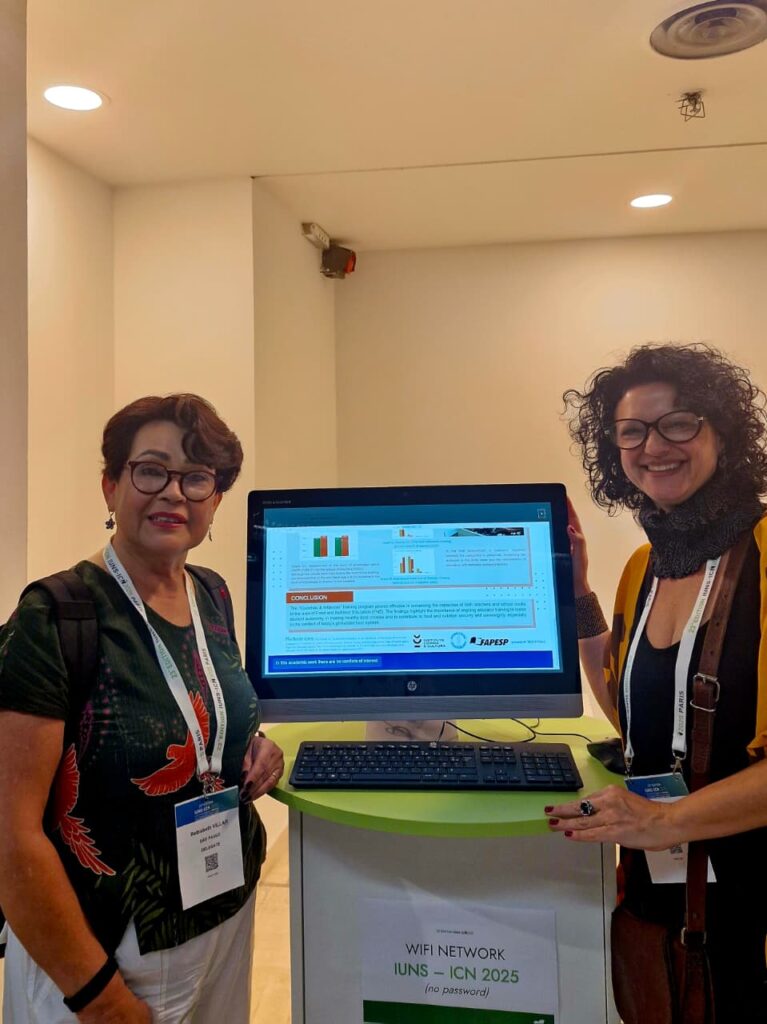
Entre os dias 24 e 29 de agosto, o Instituto Comida e Cultura marcou presença no Congresso Internacional de Nutrição IUNS-ICN 2025, realizado em Paris. A cofundadora do ICC, Ariela Doctors, apresentou os resultados do projeto Cozinhas & Infâncias, que tem transformado as escolas no Brasil, com práticas que utilizam como base o Guia Alimentar para a População Brasileira (GAPB). O evento, historicamente marcado por painéis e discussões limitadas ao campo da nutrição, começa a abrir espaço para uma visão mais ampla e multidisciplinar sobre alimentação, por isso a participação no congresso foi um marco importante para a nossa trajetória. Desta vez, o debate sobre Educação Alimentar e Nutricional (EAN) ganhou relevância em diferentes painéis, com o ICC marcando presença! Essa mudança sinaliza um movimento global que reforça a urgência de repensarmos nossos sistemas alimentares. O trabalho apresentado pelo ICC trouxe para o centro do debate a importância de formar educadores da primeira infância, colocando a alimentação como tema pedagógico e cultural, nos currículos das instituições de ensino. O projeto Cozinhas & Infâncias desenvolveu uma matriz educativa dialógica, com temáticas que percorrem desde o domínio do fogo pela humanidade até a descolonização dos nossos pratos. Essa abordagem alia teoria e prática, estimulando reflexões críticas e atividades escolares alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Os resultados da pesquisa também evidenciam avanços concretos. Entre os professores, observou-se aumento nas habilidades culinárias domésticas e no conhecimento sobre o Guia Alimentar. Também foram registradas melhorias nos processos coletivos, mostrando que a formação ampliou não apenas o aprendizado individual, mas também a capacidade de trabalho em grupo. Entre as cozinheiras escolares, parte das turmas também apresentou ganhos significativos nas práticas culinárias e na compreensão do Guia Alimentar. Esses indicadores revelam uma reconexão dos profissionais da educação com a comida de verdade, resgatando o valor da comida e da cultura no chão da escola. Mais do que números, o impacto do projeto reforça a centralidade da Educação Alimentar e Nutricional. Como já discutimos em outros conteúdos do blog do ICC, EAN não é apenas ensinar receitas ou incentivar escolhas mais saudáveis. É um processo de letramento e formação cidadã, que ajuda a compreender as dimensões sociais, culturais, econômicas e ambientais da comida. É também um caminho para garantir autonomia, consciência crítica e respeito à diversidade alimentar. Estar em um dos maiores congresso de nutrição do mundo com esse trabalho foi mais um esforço do ICC para colocar a EAN na pauta de uma agenda internacional. Com a nossa participação, mostramos que é possível transformar paradigmas a partir da escola, aproximando o Guia Alimentar da realidade cotidiana de professores, cozinheiras e, sobretudo, das crianças.
Cozinhas & Infâncias em Sorriso: saiba como foi a nossa jornada no Mato Grosso

O dia 19 de agosto de 2025 marcou o início de mais um ciclo formativo do programa “Cozinhas & Infâncias“, que chega ao município de Sorriso (MT) para conectar alimentação, educação e sustentabilidade de forma prática e reflexiva para os profissionais da rede pública de ensino da cidade. A cozinha do SENAI/Sorriso recebeu professores da educação infantil e ensino fundamental, gestores escolares, coordenadores e nutricionistas da rede para uma experiência que vai além do ambiente tradicional de formação. Durante as atividades práticas, os participantes puderam vivenciar como o ato de cozinhar pode se tornar uma ferramenta pedagógica consistente, por meio da Educação Alimentar e Nutricional. A partir desse primeiro encontro, espera-se que novas possibilidades se abram e que os profissionais participantes percebam o potencial educativo da alimentação. Durante o encontro, ficou evidente como o alimento pode funcionar como elemento articulador de diversos conhecimentos. A abordagem proposta demonstra às crianças as múltiplas conexões presentes no ato de se alimentar, de maneira acessível e prazerosa. Valorização dos saberes locais e ancestrais O diferencial do “Cozinhas & Infâncias” está em sua perspectiva decolonial, que reconhece e valoriza os saberes ancestrais e a diversidade da cultura culinária brasileira. Essa abordagem contribui para que as crianças desenvolvam não apenas práticas alimentares mais conscientes, mas também um maior reconhecimento de sua identidade cultural. Na abertura em Sorriso, também ficou evidente que os adultos também podem (re)descobrir sabores, preparos e alimentos através das vivências oferecidas pelo Programa. Confira alguns depoimentos: Um encontro de agendas Nossa passagem por Sorriso também coincidiu com a realização da 1ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Foi uma oportunidade única de conectar práticas locais com os debates mais amplos sobre a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) e os desafios que atravessam o presente. Na ocasião, Ariela Doctors, cofundadora do Instituto Comida e Cultura, participou trazendo um olhar sobre a urgência de repensar os sistemas alimentares: “Estamos acompanhando as urgências climáticas e elas se sobrepõem porque isso tudo tem a ver com a maneira com que a gente vem se alimentando e conduzindo sistemas alimentares ao longo da história da humanidade. Com isso, é mais do que urgente tratar da EAN desde a infância, para que as crianças tenham a possibilidade de se nutrir, seja com o alimento, seja com ideias, com informações.A nossa missão é formar educadores para que eles levem essa ideia para o chão da escola, para a sala de aula.”, destacou Ariela. Próximos passos do Cozinhas & Infâncias em Sorriso A formação de 40 horas, que se estende até novembro, visa preparar os profissionais para implementar práticas de educação alimentar em suas escolas. Os participantes desenvolvem competências para transformar os espaços de alimentação escolar em ambientes de aprendizado, beneficiando diretamente as crianças do município. “Está sendo uma experiência muito enriquecedora! O curso Cozinhas e Infância me fez repensar a forma de olhar para a alimentação no cotidiano escolar, não só como um ato de nutrição, mas também como momento de aprendizagem, vínculo e afeto. Com as crianças, percebo como elas se interessam em participar dos processos, em explorar cheiros, texturas e sabores. No Cemeis onde trabalho a alimentação é bem rica e diversificada então tento buscar inserir pequenas práticas que valorizem a cultura alimentar e o contato com os alimentos de forma lúdica e significativa. Isso tem aproximado ainda mais as crianças da comida e reforçado a importância desse tema na educação infantil“, revela a professora Jaqueline Macedo, participante da formação. Como próximos passos, o programa estrutura-se em sete módulos que abordam desde “O Caminho do Alimento pelo Mundo” até “Comida na Panela”, contemplando aspectos históricos, culturais, sociais e ambientais da alimentação. Essa abordagem integral permite aos educadores uma compreensão ampla das dimensões que envolvem a alimentação. O programa “Cozinhas & Infâncias” acontece até novembro de 2025, combinando encontros presenciais na cozinha do SENAI/Sorriso com aulas online. A iniciativa resulta da parceria entre Prefeitura de Sorriso, Promotoria, Secretaria de Educação e Instituto Comida e Cultura.
Manifesto pede que alíquotas do imposto seletivo sejam altas o suficiente para reduzir consumo de tabaco, álcool, bebidas açucaradas e bets

Apesar de estar fora dos holofotes, a reforma tributária do consumo ainda não foi concluída. E nesse contexto, especialistas sociedades médicas, grupos de pesquisa e organizações da sociedade civil lançaram hoje (19/8) o “Manifesto em defesa da saúde na Reforma Tributária”, que pede que a alíquota do imposto seletivo sobre tabaco, álcool, bebidas açucaradas e bets seja alta o suficiente para reduzir seu consumo e as doenças e mortes associadas a esses produtos. O texto completo e lista de signatários está disponível aqui. O documento é assinado por mais de 30 especialistas no campo da saúde e alimentação saudável, como (…) Drauzio Varella, Margareth Dalcomo, Rita Lobo, Bela Gil, Daniel Becker, e ex-ministros como José Gomes Temporão, Arthur Chioro, José Francisco Graziano da Silva, entre outros. Organizado pela ACT Promoção da Saúde, o manifesto conta também com a assinatura de mais de 100 entidades e grupos de pesquisa como (….) como a Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Diabetes, Movimento Todos Juntos Contra o Câncer, a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e outras Drogas (ABEAD), Abeso, Greenpeace Brasil, Instituto de Defesa de Consumidores (Idec), Instituto Alana, entre outras. Impactos na saúde e prejuízos para o Brasil O manifesto chama a atenção para a definição das alíquotas do imposto seletivo, que vai incidir sobre produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como tabaco, álcool, bebidas açucaradas e bets. O governo prepara uma proposta de projeto de lei com a definição das alíquotas, que deve ser enviado nas próximas semanas ao Congresso Nacional. O texto do manifesto relembra que a tributação mais alta de produtos nocivos é uma política adotada por dezenas de países, defendida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e que pode prevenir doenças, salvar vidas e economizar recursos públicos para o SUS. Estudos mostram que, apenas no Brasil, o consumo de tabaco, álcool e refrigerantes provocam prejuízos de pelo menos R$175 bilhões de reais por ano. Além de trazer dados sobre o impacto negativo do tabaco, álcool e refrigerantes na saúde da população e no meio ambiente, o texto denuncia a pressão das indústrias de produtos nocivos, que buscam influenciar governo e Congresso para que a alíquota do imposto seletivo seja a mais baixa possível. “É por isso que alertamos a sociedade e recomendamos ao Governo e ao Congresso Nacional para que considerem as melhores evidências científicas disponíveis, sem conflito de interesse, e façam cumprir a função constitucional do imposto seletivo de salvar vidas. A saúde da população deve ser protegida a despeito da pressão exercida por indústrias que lucram com o adoecimento do povo brasileiro, e buscam se esquivar da justa tributação”, conclui o manifesto.
A hora e a vez da Educação Alimentar e Nutricional: Seminário foi marcado por um convite à mobilização

Saiba como foi o evento que aconteceu no Instituto de Estudos Avançados da USP
Policy Brief defende Educação Alimentar nas escolas como resposta às epidemias de obesidade e mudanças climáticas

O Instituto Comida e Cultura (ICC) lança manifesto que defende a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) como política pública estruturante.
Brasil Fora do Mapa da Fome (de Novo): O Que Isso Nos Ensina

Conteúdo publicado originalmente no Instituto Fome Zero, de autoria de José Graziano da Silva. A edição de 2025 do relatório O Estado da Segurança Alimentar e Nutricional no Mundo (SOFI), lançado em 28 de julho em Adis Abeba, confirmou oficialmente o que já vínhamos observando nos últimos dois anos: o Brasil voltou a sair do Mapa da Fome (MdF) da FAO. A prevalência de subalimentação no país (medida pelo PoU – Prevalence of Undernourishment) caiu para 2,4% no triênio 2022–2024, abaixo do limiar de 2,5% estabelecido pelas Nações Unidas. Mas o PoU não é o melhor indicador para definir se o país está ou não no MdF, pois sofre de falta de dados atualizados, principalmente para o parâmetro do coeficiente de variação da distribuição dos alimentos, que depende da distribuição de renda no país, a qual nem sempre está disponível anualmente. Por isso, há necessidade de fazer atualizações periódicas na série quando essas informações são disponibilizadas, como ocorreu este ano. Além disso, o PoU é um indicador único, agregado a nível nacional, o que, para um país como o Brasil, com profundas disparidades de renda em sua população e entre suas regiões, termina por não dizer muita coisa. Por essas e muitas outras razões, cada vez mais se usa o indicador de insegurança alimentar (INSAN), medido pela escala FIES, similar à nossa EBIA (Escala Brasileira de Insegurança Alimentar), que se baseia numa pesquisa de campo realizada nos países-membros da FAO todos os anos. O fato extremamente positivo é que, em 2024, a prevalência de insegurança alimentar moderada + severa na população brasileira caiu abaixo de 10%, tal como já havia acontecido em 2014, quando o país saiu oficialmente do MdF pela primeira vez; e a insegurança alimentar severa afetou apenas 1% da população, tal como também aconteceu em 2014! Esse dado não apenas fecha um ciclo de reconstrução institucional iniciado pelo terceiro governo Lula, em 2023 — como também nos obriga a olhar para trás e refletir sobre as lições aprendidas (e não aprendidas). Tenho memórias vívidas daquele setembro (foto), quando entreguei em mãos à presidenta Dilma Rousseff, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova Iorque, o reconhecimento oficial de que o Brasil havia erradicado a fome, de acordo com os critérios internacionais vigentes. O país cumpria ali, com dois anos de antecedência, a meta de reduzir à metade a fome estabelecida pelos Objetivos do Milênio (ODM). Era o auge de uma década virtuosa: o Fome Zero havia se tornado política de Estado, o Programa Bolsa Família consolidava-se como modelo internacional de transferência de renda condicionada, e o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA) havia retomado seu protagonismo participativo. Mas a história não seguiu em linha reta. Leia a reportagem completa no site do Instituto Fome Zero. E confira a entrevista de José Graziano da Silva para o UOL.
Instituto Comida e Cultura e IEA promovem seminário sobre Educação Alimentar e Nutricional na USP

Evento discute o papel estratégico da Educação Alimentar frente à crise climática, às desigualdades sociais e à desinformação No dia 11 de agosto, acontece o seminário “A Hora e a Vez da EAN”, realizado a partir de uma parceria entre o Instituto Comida e Cultura (ICC) e o Instituto de Estudos Avançados (IEA) da USP. O evento, que também conta com o apoio da Cátedra Alfredo Bosi de Educação Básica da USP, tem como objetivo posicionar a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) no centro dos debates sobre educação, cultura alimentar, saúde e justiça social. Com painéis e bate-papos entre especialistas para discutir políticas públicas, práticas educativas e o papel da alimentação na promoção da equidade e cidadania, a atividade acontece entre 14h e 18h, no IEA-USP, na Cidade Universitária, com transmissão ao vivo pelo YouTube. “O evento marca uma articulação potente entre sociedade civil, academia e poder público para fortalecer a educação alimentar e nutricional como prática contínua nas escolas e como política pública de impacto intersetorial. Queremos ampliar essa conversa, sensibilizar gestores e apoiar educadores na construção de uma agenda positiva e transformadora na garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada”, comenta Patrícia Jaime, vice-diretora da Faculdade de Saúde Pública da USP e pesquisadora do IEA. Durante o seminário, será lançado o manifesto “A Hora e a Vez da Educação Alimentar”, documento que defende a EAN como política pública estruturante no contexto de sindemia global, que descreve a interseção de múltiplas epidemias como a obesidade, a desnutrição, as doenças crônicas não transmissíveis e as mudanças climáticas. O documento também apresenta sete recomendações aos gestores públicos para implementação efetiva da EAN nas escolas. Consulte o material completo aqui. O encontro é direcionado a profissionais de educação, saúde e assistência social e agricultura, além de professores, estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores, gestores públicos e representantes de movimentos sociais e da sociedade civil organizada.
Seminário Cozinhas e Infâncias promove encontro sobre educação alimentar e a cultura do Cerrado em Chapada dos Guimarães

Por Flora Camargo e Solène Tricaud Chapada dos Guimarães é um município mato-grossense conhecido por seus aspectos turísticos e belezas naturais. O que deveria chamar a atenção, para além disso, é que este é um município majoritariamente rural, com áreas de cerrado preservado, onde comunidades vivem e mantêm muita riqueza, saberes e diversidade, e dependem deste bioma. Passados três anos de atuação do Instituto Comida e Cultura, por meio do programa Cozinhas e Infâncias Territórios, construímos um seminário de culminância que pretendeu trazer luz ao tema e celebrar as ações desenvolvidas neste tempo e neste território. Um trabalho em conjunto a diversas escolas urbanas e rurais do município e olhando junto com a comunidade escolar para a transformação que a Educação Alimentar e Nutricional (EAN) pretende imprimir no território. Para saber mais sobre o progama Cozinhas e Infâncias Territórios e sobre essa primeira experiencia no Mato Grosso, sugerimos a leitura deste outro artigo, em noso blog. O seminário “Cozinhas & Infâncias: Educação e Alimentação Escolar no Cerrado”, aberto à população local, recebeu diversas comunidades rurais e a comunidade escolar, que participaram oferecendo deliciosos e surpreendentes quitutes feitos com ingredientes locais, ao longo da programação deste evento, que celebrou também a inserção do pequi e do baru na Chamada Pública da alimentação escolar do município. Durante a manhã, as participantes da formação puderam apresentar os projetos realizados ao longo do semestre, no chão da escola. Foram trazidos temas como: o resgate das plantas medicinais locais e a confeção de produtos como sabonetes, xaropes, entre outros; inovação em compostagem e minhocário; comida afetiva e a participação das famílias na escola; resgate de alimentos na alimentação escolar como o inhame; sementes e preservação do Cerrado; atividades lúdicas e alimentação adequada e saudável; implantação de hortas escolares; pães caseiros, e outros. Os projetos foram apresentados evidenciando mudanças positivas, tendo sido realizados com ferramentas que permitiram autonomia e permanência das ações na rotina escolar, estreitando laços, promovendo saberes e sabores diversos e fortalecendo a Educação Alimentar como tema potente, transversal e de transformação social. Ao longo de todo evento, pudemos contar com uma feira com expositores de diversas comunidades rurais do município ligadas à comunidade escolar. Uma oportunidade para dar visibilidade e valorizar as agricultoras e os agricultores familiares e suas associações, além de artesãs e artesãos chapadenses, trazendo grande riqueza e diversidade de produtos. Isso demonstra a força de organização e potência destes territórios, e se fizeram presentes as comunidades Batatais, Jangada Roncador, Pedra Preta, Água Fria, Mamede e o Vale do Jamacá, trazendo uma grande riqueza de produtos, como: mandioca e derivados (farinha, biscoitos, chips), doces, geleias, ovos, queijo, requeijão, pães, biscoitos, assim como frutas, hortaliças e legumes, sabonetes, xaropes, além de produtos oriundos do manejo sustentável do cerrado como o pequi e os derivados do cumbaru e jatobá. Como forma de garantir a participação ampla da comunidade escolar, o seminário contou com atividades específicas voltadas às crianças. Elas também mergulharam no tema da alimentação, de forma leve e lúdica a partir de desenhos, pinturas, sessão de filme e colheita na horta escolar agroecológica de verduras e ervas medicinais. O evento contou ainda com a performance “Pilão”, realizada pelo grupo de mulheres da comunidade Barra do Bom Jardim que, por meio da dança, da fala e do gesto de socar o arroz no pilão, compartilharam as lembranças da vida na roça e dos modos de fazer nas comunidades rurais antes do alagamento de parte do território Chapadense para a construção da Usina Hidrelétrica do Manso. Esse parêntese artístico-cultural no meio do seminário trouxe memórias à tona e descobertas para quem nunca havia visto arroz com casca, ou o trabalho no pilão, provocando reflexões sobre as mudanças que impactam nossos pratos e nossa alimentação diária. Encerramos o seminário com uma roda de conversa com agentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que estabelece a participação da comunidade no controle social, no acompanhamento das ações realizadas pelos municípios para garantir a oferta da alimentação escolar saudável e adequada. Estiveram presentes a Secretária Municipal de Cultura, a Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (EMPAER), o Conselho de Alimentação Escolar (CAE), o Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar (CECANE), a Associação Jovens Vivendo no Campo e a Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais de Chapada dos Guimarães (Cooperchapada). Foi um momento importante para expressar observações e sugestões sobre os caminhos e os desafios enfrentados no fornecimento da alimentação escolar no município, além de celebrar o PNAE, seus princípios e desdobramentos a partir da formação. Como parte da contribuição deste encontro, destacamos alguns pontos importantes para entender o que pode ser melhorado a partir de uma carta manifesto escrita ao longo da formação em conjunto com a comunidade escolar e aproveitamos a oportunidade para pensarmos juntos em soluções. Por fim, realizamos o plantio de uma muda de baru celebrando os frutos gerados por este simbólico evento, estabelecendo a prática de EAN como ferramenta de fortalecimento da cultura local, resgatando e valorizando as tradições alimentares e a identidade dos povos habitantes do cerrado mato-grossense. Agradecemos os seguintes coletivos e seus membros pela participação no evento: Associação Jovens Vivendo no Campo, Associação dos pequenos produtores da Jangada Roncador, Associação de moradores e pequenos produtores do PA Mamede, Associação de pequenos produtores rurais da cachoeira e Morro do Bom Jardim, grupo Produzir Chapada, Empreendimento DuCampo e Sítio Jamacá. Agradecemos às intérpretes-criadoras da performance cultural “Pilão”: Dona Sofia de Alvarenga, Laura de Alvarenga, Lory Silva e Francisca Dias Lessa — moradoras da Comunidade Barra do Bom Jardim, e Oz Ferreira, dramaturgista e diretora da cena. Agradecemos ao Grupo Semente e ao Projeto Sementinha por abrir as portas da horta em que aconteceram as oficinas com as crianças. Agradecemos a CMEI Anita Goulart, a escola Municipal Monteiro Lobato e as Escolas Rurais Municipais Santa Helena e Elba Xavier e suas anexas. Agradecemos também a escola estadual Rafael de Siqueira em nome do seu diretor Daniel de Lima, que gentilmente cedeu o espaço para a realização do Seminário.
Programa Cozinhas e Infâncias celebra formatura em Curitiba com a juventude na cozinha

O primeiro semestre de 2025 marcou a chegada do programa Cozinhas e Infâncias a Curitiba. Professores, gestores e nutricionistas da rede pública de ensino da capital paranaense tiveram a oportunidade de ampliar seus conhecimentos sobre educação alimentar. O projeto já deu frutos, com muitos educadores agregando os saberes a suas práticas pedagógicas. A educadora Ana Rigo, professora do projeto Mãos na Massa na Escola Professor Erasmo Pilotto, com coordenação pedagógica de Fernanda Ziemmermann, é uma das parceiras do Instituto Comida e Cultura (ICC) na implementação da formação em educação alimentar em Curitiba. Com o apoio do Instituto Bia Rabinovich (IBR), o Cozinhas e Infâncias chegou a educadores de 11 escolas da cidade e, possivelmente, às comunidades de muitas crianças que compartilham os conteúdos das aulas com seus familiares. O encerramento do curso foi realizado no melhor estilo: junto às crianças, alunas e alunos da escola Erasmo Pilotto. “No Mãos na Massa, trabalhamos alimentação saudável, horta escolar, composteira, meditação, vários aspectos que envolvam o conhecimento sobre os sistemas alimentares e a nossa cultura alimentar brasileira”, conta Ana Rigo. “Foi muito bonito ver todo mundo trabalhando em conjunto na cozinha, superando as dificuldades. Fiquei bem orgulhosa dos meus alunos. Eles mostraram que já guardam um grande conhecimento sobre educação alimentar e nutricional, fruto de um trabalho de quatro anos que esse projeto já acontece na escola”, completa. Para Ana Vasconcellos, facilitadora pedagógica do ICC, a experiência em Curitiba partiu de uma construção de parceria, empatia e confiança, tanto com os educadores, quanto com as crianças. “Eu trouxe uma comida originária de alguns países de África, que é o mungunzá, ou a canjica, para a atividade na escola. Falei que a canjica é uma comida de santo, ligada à espiritualidade e à ancestralidade. Que o Brasil tem toda essa cultura preta, cultura indígena e dos imigrantes. Somos um grande país, plural e diferente. Eles ouviram com atenção e contei que a canjica também é memória afetiva, pois a minha mãe faz para mim até hoje”, lembra. “Depois, cozinhamos juntos e foi muito bacana. Uma das alunas da turma é indígena e nos deu uma aula maravilhosa sobre as comidas típicas do Pará. A gente também aprende muito com eles. Eu mais aprendi do que ensinei, e saí uma pessoa muito melhor depois desse processo.” Apesar da subjetividade que a educação alimentar pode ter na vida das crianças, o impacto no bem-estar é, muitas vezes, palpável. A seguir, confira alguns depoimentos de estudantes da escola Erasmo Pilotto que fortalecem nossa caminhada por mais educação alimentar nas infâncias. “Como a gente está em um período em que só comemos comida industrializada, que tem muitos aditivos químicos, o projeto Mãos na Massa é como se fosse um refúgio pras pessoas que querem comer saudável. Pras pessoas que gostam e pras pessoas que não sabem ainda o que é isso. Minha avó e minha mãe sempre cozinham, muito raramente a gente pede uma comida. Às vezes, quando não tem nada pronto para comer, eu vou lá e faço. Porque é uma coisa que a gente já tem idade pra ser independente, para fazer algumas coisas que a gente consegue. E é muito legal descobrir que a gente consegue fazer coisas novas.” – Yasmin, 12 anos (já cozinha desde os 7 anos) “Desde pequeno, eu sempre quis cozinhar, e comecei no curso esse ano. Já fizemos milho refogado e cozido, pão de mandioca, tapioca, broa de fubá. É divertido cozinhar porque tem gente que eu conheço junto comigo.” – Bernardo, 12 anos “Acho uma experiência muito legal ter aula de culinária na escola, porque a gente pode aprender a cozinhar umas comidas que podem agregar no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Várias vezes a gente acaba comendo comidas que não fazem bem e a gente acaba não percebendo. Quando a gente faz a nossa própria comida, a gente se sente melhor por ter conseguido fazer. Eu faço macarrão, arroz, feijão, bolo, estrogonofe. Às vezes, cozinho junto com meus irmãos mais novos e ensino a eles.” – Nataly, 14 anos “Aprendemos bastante sobre comidas indígenas e sobre como o alimento que tem químicos faz mal pra nós. Aprendi a fazer milho cozido, broa de fubá, bolo de fubá também, várias receitas com milho. Quando você cresce, a mãe não vai estar mais do lado, e você tem que aprender a cozinhar sozinho. Eu conto pra minha família o que eu aprendo na aula. E a minha mãe sempre ensinou a fazer o básico: arroz, feijão.” – Otávio, 12 anos “Eu vim de Belém do Pará e vivi lá por nove anos, desde que nasci até me mudar para Curitiba. Lá a gente comia bastante tacacá, maniçoba, que são comidas típicas de lá que são feitas principalmente da mandioca e de algumas outras comidas, como o jambu. Eu espero aprender a cozinhar esse tipo de comida um dia. Aprender a cozinhar é importante para aprender a cultura de outros povos e para que um dia, no futuro, eu possa cozinhar pros meus filhos, pros meus amigos, para familiares. É uma coisa que eu gosto de fazer. Quando eu estou com outras pessoas, eu posso conversar com elas enquanto a gente cozinha, e quando estou sozinha, posso conversar comigo mesma. É um tempinho que eu gosto. Desde pequena, eu gosto muito de cozinhar com a minha mãe. Só que, quando a gente veio para Curitiba, às vezes a gente não tinha tempo para cozinhar juntos, a família inteira. A gente acabou perdendo algumas coisas que a gente fazia, como cozinhar juntos. Aqui eu encontrei um grupo de pessoas que gostava de cozinhar também, e era muito engraçado, todo mundo ri. E também é sobre conviver com pessoas de outras salas, que a gente não vê durante o intervalo porque a gente já tem nossos amigos e outras coisas para fazer. Mas aí, no Mãos na Massa, eu posso conviver com outras pessoas.” – Maria Clara, 13 anos
Educação Alimentar e Nutricional: uma resposta sistêmica à sindemia global

Artigo de Ariela Doctors e Brena Barreto Você já ouviu falar em sindemia? Esse termo está relacionado aos desafios que enfrentamos atualmente na saúde pública, principalmente quando falamos de alimentação, doenças crônicas e mudanças climáticas. Ele também nos ajuda a entender por que a Educação Alimentar e Nutricional (EAN), a Educação Sistêmica, e a Educação Ambiental são necessárias, principalmente na infância. O conceito de sindemia global descreve a interação entre três crises contemporâneas: obesidade, desnutrição e mudanças climáticas¹. Elas coexistem e se potencializam, compartilhando as mesmas causas, como sistemas alimentares insustentáveis e desigualdades sociais. Seus efeitos não são iguais para todas as populações, afetando desproporcionalmente grupos mais vulneráveis, como as crianças. Os efeitos da sindemia global na infância A má alimentação na infância, seja por excesso ou por deficiência de nutrientes, pode comprometer o crescimento físico e o desenvolvimento cognitivo ao longo da vida. Milhões de crianças em todo o mundo enfrentam simultaneamente as diferentes formas de má nutrição (como desnutrição, obesidade e deficiências nutricionais), em um contexto marcado pelo aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Esses produtos, estão associados a um maior risco de obesidade e outras doenças crônicas não transmissíveis². Somam-se a esse quadro os efeitos dos eventos climáticos extremos, como enchentes e secas, que impactam a produção de alimentos, dificultando o acesso a alimentos frescos e nutritivos. Crianças que vivem em comunidades de baixa renda e em zonas rurais estão entre as mais impactadas por essa realidade³. Diante dessa complexidade, precisamos de respostas que não se limitem a soluções pontuais ou técnicas. É nesse cenário que a EAN, aliada à Educação Ambiental e à Educação Sistêmica, se torna uma estratégia transformadora. Educação Sistêmica: enxergar as conexões A Educação Sistêmica propõe olhar o mundo de forma integrada4. Em vez de tratar saúde, alimentação, meio ambiente e cultura como temas separados, ela reconhece as interconexões entre eles. Essa abordagem convida escolas a integrarem saberes, territórios e afetos, promovendo uma aprendizagem significativa e comprometida com a vida. Quando aplicada à EAN, a visão sistêmica permite entender que comer não é apenas uma necessidade biológica, mas um ato cultural, político, ambiental e relacional. Ao desenvolver esse olhar nas crianças e jovens, a escola contribui para formar cidadãos conscientes do seu papel na transformação do mundo. A escola como espaço de transformação No Brasil, a Lei nº 11.947/2009 fortaleceu o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)5, garantindo refeições saudáveis na escola e incentivando a compra de alimentos da agricultura familiar. Com a Lei nº 13.666/2018, a EAN passou a fazer parte do currículo escolar, reafirmando seu papel na formação integral. Mas a educação alimentar não se resume a conteúdos sobre nutrientes. Na prática, ela se manifesta em hortas pedagógicas, oficinas de culinária, rodas de conversa, visitas a feiras, projetos sobre agroecologia. Tudo isso ajuda os estudantes a refletirem: o que comemos? De onde vem? Como é produzido? Quem lucra e quem perde nesse processo? Educação alimentar e ambiental: o mesmo caminho A crise ambiental e alimentar têm uma raiz comum: um sistema que desrespeita os ciclos da natureza, os saberes tradicionais e os direitos humanos. Produção intensiva, uso de agrotóxicos, desperdício e emissão de gases de efeito estufa fazem da alimentação um dos principais vetores da destruição ambiental. Por isso, Educação Alimentar e Ambiental precisam andar juntas — e de forma sistêmica. Ao trabalhar com os estudantes os impactos do consumo alimentar, a valorização da cultura local, a importância da sociobiodiversidade e o respeito à terra, a escola contribui para uma mudança de consciência que se traduz em atitudes. Comer é um ato político e relacional Inspirada em Paulo Freire6, a EAN defende o diálogo, a escuta e a valorização das experiências alimentares dos sujeitos. Comer é um ato político, afetivo e identitário. É também um ato de pertencimento: ao corpo, à comunidade, ao território.Frente à sindemia global, uma educação com visão sistêmica é mais do que necessária — é urgente. Ela nos ajuda a compreender o mundo como uma teia de relações vivas, e nos convida a agir com consciência, responsabilidade e empatia.Educar para comer melhor é, também, educar para ser, conviver, transformar, reconhecer e defender direitos. E esse caminho pode começar no cotidiano das escolas! REFERÊNCIAS Sobre as autoras Ariela Doctors é coordenadora-geral e coautora dos processos pedagógicos do Instituto Comida e Cultura, é comunicadora, escritora e chef de cozinha. Membro do Conselho Educação e Território do Instituto Aprendiz, tem ampla experiência em educação sistêmica e cursa mestrado em Nutrição em Saúde Pública na USP. Brena Barreto Barbosa é pesquisadora e mentora do Sustentarea. É Mestra em Nutrição e Saúde pela Universidade Estadual do Ceará.